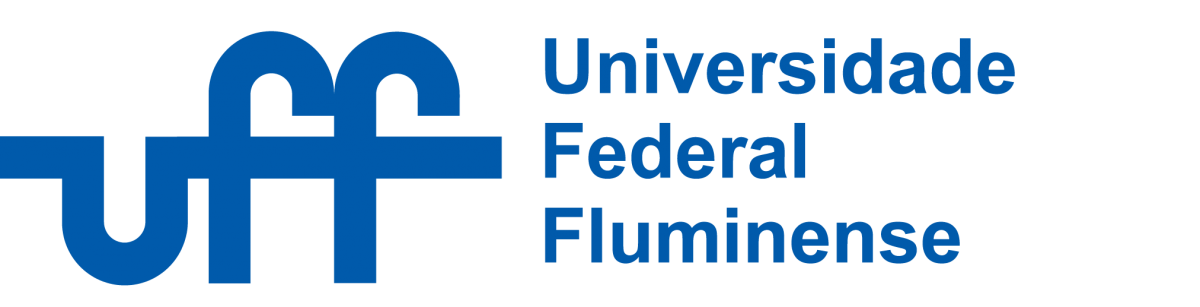Notícias
- Detalhes
- Publicado em Terça, 04 Dezembro 2018 18:25
-
Escrito por Super User
Escritores afro-brasileiros traduzidos
O site sobre tradução Words Without Borders acaba de publicar um número especial sobre literatura de escritores afro-brasileiros.
Dentre vários textos, vale conferir a tradução para o inglês de um ótimo conto de Lima Barreto, “Dentes negros e cabelos azuis”/”Black Teeth and Blue Hair”, feita por Eric M. B. Becker.
Confiram o número completo em: https://www.wordswithoutborders.org/issue/december-2018-afro-brazilian-writing
UMA VIDA EM TRADUÇÃO
- Detalhes
- Publicado em Domingo, 22 Outubro 2017 14:25
-
Escrito por Super User
Uma conversa com Paulo Henriques Britto sobre seus novos livros, as dificuldades de quase meio século no ofício de tradutor – e dois poemas inéditos
POR MATEUS BALDI
19 DE OUTUBRO DE 2017 14:47 [In: http://piaui.folha.uol.com.br/uma-vida-em-traducao/]
Um.
Paraísos artificiais
Fazia um calor opressivo às duas da tarde de sexta-feira, 6 de outubro, quando Paulo Henriques Britto recebeu-me em sua sala no quinto andar do prédio do departamento de Letras da PUC-Rio, no bairro da Gávea. Usava óculos de grau, camisa polo cinza, calça jeans escura e as habituais sandálias, que lhe conferem um aspecto simples e despretensioso. Considerado um dos principais tradutores brasileiros vivos – são mais de 100 livros vertidos do inglês para o português durante quase meio século –, além de poeta e contista premiado, ele se prepara para lançar um livro de poemas no ano que vem – do qual farão parte os versos inéditos do final desta entrevista – e mais um volume de contos, em 2019. Britto deixa os óculos caírem pescoço abaixo, e diz:
– Desde menino eu já sabia que seria escritor. Agora, tradutor foi acontecendo. Em 1972, fui estudar cinema na Califórnia e comecei a traduzir. Tinha um amigo que era ligado em literatura, eu traduzia para ele umas músicas do Caetano, coisas que faziam sucesso na época, e teve essa história de ficar escrevendo em inglês. No início, eu traduzia meus próprios contos. Depois, dos anos 80 até meados de 2000, foi uma fase em que traduzi muito. Quatro livros por ano. Quando entrei para a pós-graduação aqui na PUC, cheio de orientandos, meu ritmo caiu. Hoje faço em média um livro e meio por ano.
– Você seleciona?
– Eles me mandam. A essa altura, já sabem mais ou menos o que eu gosto. Finalizei um do Teju Cole e estou fazendo um do James Baldwin.
Menciono O Som e a Fúria, de William Faulkner. Para muitos um dos principais romances do século XX, a obra sobre a decadência de uma família no sul dos Estados Unidos ganhou uma elogiada tradução de Britto pela extinta Cosac Naify.
– Foi a minha única pulada de cerca nesses 31 anos de Companhia das Letras. – Ele ri. – Quem me lançou na poesia foi o Augusto Massi. Em 1989, mais ou menos, foi que comecei a ser lido, e graças ao Augusto. Eu tinha uma dívida com o Augusto, ele sempre me dizia, quando estava na Cosac, “Paulo, queria que você fizesse Faulkner para nós”. Era um livro difícil, então estendi o prazo ao máximo. Levei um ano e meio para fazer. Foi uma delícia.
– Uma nova edição de O Som e a Fúria acaba de sair pela Companhia das Letras. Você chegou a revisá-lo desta vez?
– Não, mas algumas vezes eu reviso. Em novembro sai pela Companhia uma reedição do Wallace Stevens. Incluí dezoito poemas, alterei estrofes inteiras, fiz seção de notas. Nesses trinta anos desde a primeira edição, eu tive acesso às cartas dele, é outra coisa. Revisei tudo – diz, a respeito do poeta norte-americano.
– E como você vê o mercado hoje?
– As editoras finalmente estão entendendo que uma má tradução derruba o livro. Antigamente o tradutor entregava o trabalho, recebia o pagamento e pronto. Aí o editor mexia, o revisor mexia, e você ficava fulo porque estava no seu nome e não era você que tinha feito aquela besteira. Na Brasiliense aconteceu isso. Eles tinham uma coleção de livros de crime, eu traduzi uns três, e tive um problema com O Sono Eterno, do Raymond Chandler. Lembro de um trecho mencionando “madrepérola”, mas não nos termos certos. Levei horas correndo atrás para entender que diabos era aquilo e no final das contas o revisor colocou pistola de pérola. Fiquei puto. Tinha passado horas deixando bonitinho e o cara foi lá e botou qualquer coisa. A partir daí comecei a interferir e ver se autorizava modificações.
– Como é o teu processo de tradução?
– Prosa eu tenho uma certa rotina. Primeiro faço o rascunho de cada capítulo ou seção, e traduzo usando um programa que transforma a fala em texto. Cansa muito menos. Aí, quando acaba o capítulo, copio e colo no Word. É quando faço o cotejo, a parte mais chata, me dá um sono desgraçado. Você descobre que pulou diálogo, trocou nome de personagem. É aí que pega as bobagens. Tem que ser um trabalho bem meticuloso. Quando o livro está todo cotejado e rascunhado eu leio o texto todo sem consultar. Poesia é totalmente diferente. Leio o poema e já vou direto no computador, não uso o negócio de ditar. Revejo, vou e volto, é uma coisa de ir e vir.
– Qual sua tradução preferida?
– Gosto muito do livro do Wallace Stevens, do Arco-íris da Gravidade, do Pynchon. Uma Casa para o Sr. Biswas, do V. S. Naipaul, me deu um prazer, várias pessoas leram e adoraram. Já as traduções que eu menos gosto são as primeiras. Naquela época uma coisa atrapalhava: os revisores eram mais velhos, criavam problemas. O diálogo, por exemplo, é fundamental, e os revisores não me deixavam traduzir de forma coloquial. Um diálogo e os caras queriam que eu botasse Vi-o. Porra, ninguém fala Vi-o, as pessoas falam Vi ele. Os próprios escritores tinham dificuldade com marcas de oralidade, aquele problema da obsessão com norma culta.
– Você é bem atento à produção atual, não?
– Prosa eu leio pouco, mas gosto do Bernardo Carvalho, do André Sant’Anna. Na poesia estamos num momento bom, muita gente fazendo coisa boa, é claro que tem a pegada de geração e uns trabalhos parecidos, mas têm saído obras ótimas. Gosto muito da Alice Sant’Anna, que agora é minha editora na Companhia das Letras, da Catarina Lins, lá de Florianópolis, muito boa, e um rapaz também que está morando no Sul, Ismar Tirelli Neto. A gente estuda muito ele nas minhas oficinas.
– Como aconteceu de ir da tradução para a sala de aula?
– Eu já dava aulas no Ibeu [Instituto Brasil-Estados Unidos, que oferece cursos de tradução], e era aluno da PUC. Um professor teve hepatite e não poderia dar aula. As turmas começariam em duas ou três semanas, aí me chamaram. Comecei a lecionar quando ainda estava me graduando, em 1978. A rotina era maluca, eu assistia a uma aula e ia dar aula para os meus colegas. Aí, nesse mesmo ano, eu me formei e ficou tudo certo.
Dois.
Um paraíso real
Paulo Henriques Britto é adepto de construções kafkianas para seus personagens, constantemente enredados em situações extremas e inevitáveis. Alguns de seus contos surgem de sonhos. Um deles foi sobre uma linha de ônibus praticamente desativada que cruza a cidade e um sujeito acaba se metendo numa enrascada ao tomá-la. O possível pesadelo deu origem a “O 921”, sétimo conto de Paraísos Artificiais. Lançado em 2004, o livro reúne nove histórias, a última delas, uma quase-novela. A inexorável aproximação da morte é uma constante na prosa de Britto. Pergunto quais são suas principais influências.
– Li muito Sartre, Tchekhov, Machado de Assis. E muito Kafka, que releio com frequência, especialmente os contos reunidos dele. Logo que cheguei na Califórnia corri para comprar os contos completos em inglês, tenho esse livro até hoje.
– Kafka foi sua maior influência?
– Acho que o Cortázar também. Lendo ele, você percebe que a gente sobrecarrega as coisas de significados que não se sustentam. Em um conto que escrevi, “Castiçal florentino” [publicado na edição de outubro de 2012 da piauí], mostro que esse significado que a gente atribui às coisas na verdade não tem a menor importância. O que parece sólido pode se desmanchar no ar com muita facilidade. Acho que no fim das contas o desmanche é o meu tema.
– Por que você considera esse o seu tema?
– Nos contos que tenho escrito nos últimos anos, principalmente, os personagens se embrenham em situações complexas, investem muita emoção naquilo, e de uma hora para outra tudo desaba, e o conto termina. E aí fiquei achando que esse tema está nos poemas também: é partindo do nada, as coisas tais como são, desprovidas de sentido e de causalidade, que a gente constrói, basicamente por meio de palavras, essas formas que constituem a nossa realidade. Mesmo que elas se tornem estruturas muito complexas, na verdade são frágeis. Podem deixar de existir sem mais nem menos.
O último livro de Britto, Formas do Nada, de 2012, é construído também ao redor de questionamentos como esses. Uma das leituras possíveis é que se trata de uma reflexão sobre a tentativa eterna de dar um sentido, uma forma, à própria existência. Ele comenta:
– É com as palavras que damos sentido à vida, mesmo sabendo que ela, em si, não tem sentido nenhum, não vem de lugar nenhum e nem vai para lugar nenhum. Mas, enquanto se está vivo, o que se faz o tempo todo é justamente transformar essas coisas informes em formas dotadas de sentido – completa.
– E qual a relação dessa busca por um sentido com essa questão de que falávamos, do desmanche?
– A forma a gente não encontra, mas constrói. A realidade em que vivemos é uma construção cultural, um construto de palavras. Mas há por trás dela uma outra realidade bruta, cega, inteiramente desprovida de sentido, que a gente sente na carne quando sofre um acidente, ou quando passa por um terremoto ou um furacão, ou simplesmente quando uma pessoa próxima de nós, cheia de vida, totalmente envolvida com o mundo, morre de repente, sem mais nem menos. Isso é uma das formas – a mais radical – do desmanche.
uas batidas na porta da sala, nesta tarde abafada na PUC-Rio. Britto se levanta e contorna a mesa. É um aluno que chegou para orientação. Ele pede que espere alguns minutos.
– Voltando à criação literária, saiu na imprensa que você lança mais um livro no ano que vem.
– De poesias. Já está pronto. Quer dizer, quase pronto. Vou para Portugal no verão e até lá já pretendo ter ele fechado. Serão cinquenta poemas curtos.
– E o de contos?
Ele abaixa a cabeça, como se avaliando a confusão, hesita estimando a obra e diz:
– Ah, só em 2019. Não tem título definido. Está muito pequeno. Tem uns cinco ou seis prontos, estou tentando fazer mais um. Quero ver se no verão produzo mais alguma coisa. O problema é que as duas pessoas que me liam morreram, minha mulher, Santuza [em 2012], e o Antonio Carlos Viana. Eles me davam dicas… Mas agora não tenho mais a opinião deles, e eu não vou ficar pedindo às pessoas que leiam, está todo mundo atolado de trabalho. Tô meio na mão do meu editor.
– E você definiu uma temática geral para o livro de contos? Como vão ser?
– Ainda tem coisas que escrevi nos Estados Unidos. Eu vivo revisitando. O texto que abre o Paraísos Artificiais, por exemplo, era parte de uma carta que eu escrevi, o conto “O primo” era o começo de um romance escrito lá.
– Como você se dá com outros idiomas?
– Não sou bom em idiomas estrangeiros. Espanhol eu leio razoavelmente bem, francês muito mal, alemão não leio nada, e é uma ironia que o escritor que eu mais gosto escreva numa língua que eu não leio.
Pergunto como foi traduzir grandes escritores anglófonos vivos, como Thomas Pynchon, Ian McEwan, Philip Roth e Don DeLillo, e se houve interação com eles.
– O Pynchon é dificílimo, mas completamente acessível, responde a todas as minhas dúvidas. Mando tudo para a mulher dele, e o sujeito é extremamente prestativo, ele e o John Updike foram os mais prestativos. Tem uns que são difíceis. Com o Naipaul e o Philip Roth, por exemplo, não fui bem-sucedido. São pessoas enroladas, difíceis, qualquer pergunta já ficam na defensiva, acham que é uma crítica.
– Você já falou da melhor parte de traduzir. E fazer prosa e poesia? Quais as melhores partes?
– Aparar as arestas, olhar e dizer “agora esse troço tá pronto”. O momento inicial também é bom, encarar a tela em branco e começar a escrever. Perguntaram ao João Cabral essa mesma coisa e ele disse: “Tem a hora que o poema faz um clique.” É exatamente isso. Acho extremamente prazerosa a hora que você faz uma mudança e não precisa mexer nada. Mas também é ilusório, vou dormir achando tudo perfeito, acordo e vejo que tava uma merda. Acaba que tem sempre uma hora que eu digo que fechou mesmo.
São pouco mais de três e meia da tarde. O calor na PUC está infernal, e Britto orienta um aluno em sua sala. O tradutor e escritor é admirado entre os estudantes, a ponto de terem criado o Prêmio Paulo Henriques Britto de Prosa e Poesia, responsável por revelar nomes como Miguel del Castillo, Carlos Eduardo Pereira e a própria Catarina Lins. A próxima edição será no mês que vem.
Cabe uma última pergunta sobre a criação poética, e Britto retoma a reflexão sobre a relevância da forma no seu processo de escrita.
– Para mim, o que puxa o poema é o verso ou uma forma. Gosto de inventar formatos, os sonetoides mancos, por exemplo, que têm rimas internas e versos a menos. Em um dos livros tem os sonetetos, que são literalmente sonetos cortados ao meio.
Simples assim.
Dois poemas inéditos do livro previsto para 2018:
Glosa sobre um mote de Sérgio Sampaio
E onde quer que eu esteja, eu não estou.
Onde fui posto, ali não quis ficar,
porque era muito pouco e era demais,
e também por não ser o meu lugar,
que era bem na frente, e era lá atrás.
Não que houvesse um lugar onde eu quisesse
estar. Isso seria fácil. Não.
É que eu fujo de tudo que parece
ser fácil, e pra toda solução
dou sempre um jeito de achar um problema,
e diante do que está se resolvendo
procuro outro, pra tirar a teima.
Só me interessa o que não compreendo,
só amo o que não sei e não se explica.
Não quero ir aonde vou. Mas vou.
Estou aqui e não sei onde isto fica,
e onde quer que eu esteja, eu não estou.
–
Lacrimæ Rerum
É o lamento das coisas,
a desdita da matéria.
Não tem nada a ver conosco,
com nossa breve miséria,
nosso orgulho de organismo.
É uma questão de moléculas,
que antecede a biologia
por coisa de muitos séculos.
Diante dessa dor arcana
nosso entendimento pasma.
Nem tudo está a vosso alcance,
ó seres de protoplasma.
Os autores secretos: Um livro traduzido é sempre uma obra conjunta
- Detalhes
- Publicado em Segunda, 03 Julho 2017 23:01
-
Escrito por Super User
José Eduardo Agualusa – O Globo, 26/06/2017 4:30
Estou em Dublin pela primeira vez. Não sei muito sobre a cidade, para além do que li nos livros de alguns dos nomes mais importantes da literatura mundial que aqui nasceram e viveram, como James Joyce, Oscar Wilde, George Bernard Shaw ou Samuel Beckett. Nem deve existir outra cidade no mundo, de dimensão semelhante, que tenha produzido tantos grandes escritores. Passeando pela cidade, reparamos num pub, o Davy Byrne’s Pub. Sim, asseguram-nos, é o mesmo onde Leopold Bloom tomou um copo de vinho e comeu uma sanduíche de queijo. Ainda há poucos dias, a 16 de junho, se festejou na cidade o Bloomsday, dedicado a homenagear o famoso personagem de “Ulysses”. Leopold Bloom é, aliás, o único personagem literário a ter um dia com o seu nome.
Daniel Hahn, o meu tradutor inglês, comentou, brincando, que todas as estátuas erguidas em Dublin representam escritores. Não serão todas, mas são, certamente, a maioria. Em todo o caso, uma cidade que tem mais estátuas de escritores que de políticos é certamente um lugar muito recomendável.
Nos últimos dias tenho conversado com Daniel sobre tradução. Pode dizer-se de um livro que está bem traduzido quando os leitores nem sequer se apercebem da presença de um tradutor, ou seja, quando o livro parece ter sido escrito diretamente naquele idioma. O melhor tradutor, portanto, é invisível. Mas será mesmo? Talvez não inteiramente. Daniel defende — e eu acho que ele tem razão — que o tradutor vai criando o autor à medida que o traduz.
O escritor espanhol José Manuel Fajardo, o qual, como muitos outros escritores, acabou revelando-se também um excelente tradutor, disse-me algo semelhante: “Imagino cada escritor que traduzo como se fosse um personagem, com um determinado estilo. Esforço-me por ser aquele escritor, da mesma forma que, quando escrevo um romance, me esforço por ser um determinado narrador”.
Daniel Hahn tornou-se tradutor com um dos meus primeiros romances, “Nação crioula” (2007), e desde então traduziu outros quatro. Ao fim de todos estes anos, é suposto que os meus livros já tenham adquirido uma dicção própria em língua inglesa. Isso não aconteceria, é claro, se cada romance tivesse sido trabalhado por um tradutor diferente.
Um bom exemplo de como os tradutores reinventam os livros é precisamente o “Ulysses”, de James Joyce. No Brasil, o “Ulysses” tem três traduções: a de Houaiss, de 1966; a de Bernardina da Silveira Pinheiro, publicada em 2005; e a de Caetano Galindo, publicada em 2012. O livro é o mesmo. E não, o livro não é já o mesmo. Cada uma dessas versões tem uma espécie de cor própria, a tal voz a que se refere Daniel Hahn, ora mais gongórica (Houaiss), ora mais contida e acadêmica (Bernardina), ora mais colorida (Galindo), que dá ao livro uma personalidade diversa.
Imaginemos um escritor com uma obra extensa, complexa mas coesa, como, por exemplo, o português António Lobo Antunes, que já vai, se contei bem, em 27 romances — fora os excelentes livros de crônicas. Seria muito diferente ler todos esses livros numa outra língua, traduzidos pela mesma pessoa, ou traduzidos por diferentes tradutores-autores. Imagino que um leitor que tentasse ler esses romances, um após o outro, cada qual de um tradutor diferente, poderia ficar com uma sensação de estranheza, uma impressão, ainda que muito sutil, quase inconsciente, de que aqueles livros não poderiam ter sido escritos pela mesma pessoa. Ou de que o autor seria levemente esquizofrênico.
Na época em que a sua tradução foi lançada, Caetano Galindo deu uma entrevista na qual assume, com notável coragem, o papel de tradutor-autor: “Quando eu dou de presente pra alguém um livro que traduzi, costumo escrever que aquilo é ‘um livro de fulano, escrito por mim’. Uma tradução, em diversos sentidos muito importantes, foi escrita pelo tradutor. É ele o responsável pelas escolhas que definem o texto final. É claro que você tenta evitar que as tuas idiossincrasias penetrem demais o texto. Mas, para começo de conversa, é preciso ‘saber’ quais são elas! Mas o ‘Ulysses’ que sai agora é meu. Tem a minha cara, alguns dos meus vícios e, espero, uma ou outra coisa que se avalie positivamente.”
Acho a posição de Galindo corajosa porque, para um grande número de leitores, o tradutor não pode em caso algum impor uma voz. Para esses leitores, um romance é uma entidade pronta, sagrada, que deveria ser passada de um idioma para outro sem que nada nele se alterasse. No final de um dos debates de que participei, em Dublin, ao lado de Daniel Hahn, uma senhora veio ter comigo muito irritada: “Quando leio um livro seu quero ouvir a sua voz, não a do tradutor”.
Na altura, arrastado pelo redemoinho de gente que queria falar comigo, não soube o que lhe responder. Respondo agora: um livro traduzido é sempre uma obra conjunta. Não há como não ser. Normalmente, um escritor não escolhe os tradutores. Se tiver sorte, tal parceria é para a vida. Se tiver mesmo muita sorte, como eu tive ao calhar-me o Daniel Hahn, os livros resultantes dessa parceria são tão bons ou ainda melhores do que os originais.
Leia mais: https://oglobo.globo.com/cultura/os-autores-secretos-21518368
Nova tradução de “Otelo”, que chega hoje às livrarias, valoriza camadas do texto de Shakespeare
- Detalhes
- Publicado em Segunda, 06 Março 2017 22:20
-
Escrito por Super User
Confira a entrevista com o tradutor Lawrence Flores Pereira
Por: Fábio Prikladnicki
06/03/2017 – In: http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2017/03/nova-traducao-de-otelo-que-chega-hoje-as-livrarias-valoriza-camadas-do-texto-de-shakespeare-9741127.html
Uma característica da obra de Shakespeare é a impossibilidade de se afirmar que determinada peça é sobre isso ou aquilo. Cada uma trata de inúmeros tópicos ao mesmo tempo. Talvez seja um pouco assim com qualquer trabalho artístico, mas no caso do Bardo de Stratford-upon-Avon a multiplicidade de temas é potencializada pela enorme fortuna crítica. Poucos autores tiveram tantos exegetas quanto ele.
Otelo, que volta às livrarias brasileiras hoje em tradução inédita de Lawrence Flores Pereira pela Companhia das Letras, é sem dúvida uma peça sobre o ciúme, sentimento que o desleal Iago, em célebre definição, chama de “o monstro de olhos verdes”. Mas é também sobre a questão da raça, afinal, seu protagonista é um mouro estereotipado por (quem mais?) Iago. E também sobre a tragédia de uma mulher, Desdêmona, acusada injustamente de infidelidade.
Outras camadas de leitura podem ser acrescentadas, e Pereira tem ciência dessa infinidade. Mas está à altura da empreitada. Sua versão de Hamlet, pela mesma editora, ganhou o Prêmio Jabuti de tradução em 2016, e ele tem outras obras de Shakespeare na fila para traduzir. A edição agora disponível nas lojas inclui introdução e notas suas, além de um ensaio de W. H. Auden.
Em entrevista a ZH, o tradutor explica os desafios de verter Otelo:
– Há na peça a linguagem demoníaca de Iago, assim como a linguagem “elevada” e musical de Otelo, poemas satíricos rimados, prosa, canções femininas, assim como muita linguagem metafórica, carregada de fantasmas sexuais impressionantes. Não há uma linha que não tenha terríveis insinuações, e o tradutor deve deixá-las viver como insinuações, sem carregar demais as tintas. A teatralidade é importante.
Questões formais à parte, Pereira acredita que Shakespeare precede Freud “em séculos” ao apresentar “a anatomia da imaginação, seus processos, o momento da infusão de suspeitas”. Sua atualidade é constantemente renovada. Enquanto o julgamento de O.J. Simpson volta aos holofotes em documentário e série ficcional, Otelo oferece insights preciosos sobre a violência dos homens contra as mulheres (curiosidade: a Nobel de Literatura Toni Morrison reescreveu a história do Mouro de Veneza em uma perspectiva feminina na peça Desdemona, estreada em 2011 em Viena).
Pereira atesta:
– A dupla visão do homem em relação ao feminino, que oscila entre a imagem de intensa pureza e virtude e a imagem da prostituta, é magistralmente apresentada por Shakespeare por meio das imaginações de Iago e de Otelo, imaginações que tornam a peça sufocante.
Shakespeare e as minorias
Na trama ambientada em Veneza, Otelo é um general que conquista Desdêmona apesar da oposição do pai dela, que o acusa de tê-la enfeitiçado. Em uma missão no Chipre, o personagem-título tem de lutar também contra o próprio ciúme, instilado pelo alferes Iago. O tratamento dispensado por Shakespeare a minorias como negros, mulheres, homossexuais e judeus tem sido tema de exaltados debates acadêmicos. Pereira acredita que o autor “contribuiu enormemente para entender as fantasias e preconceitos humanos ao desenvolver um perspectivismo dramático que ultrapassava a noção de bem e mal”. Explica ele:
– Otelo traz linguagem racial, mas não dita por Shakespeare, e sim por Iago, um personagem que é claramente pérfido. Agora, Shakespeare nunca foi um paladino da boa consciência, em parte porque a época veria com ceticismo qualquer esperança excessiva na capacidade humana de fazer o bem, e Shakespeare mostrou várias vezes o que pode às vezes estar por detrás de uma aparência de virtude moral.
O tradutor pontua que a relevância da questão racial na peça é “imensa”, mas defende que precisa ser contextualizada.
– Shakespeare estava ciente de estar trabalhando com algo parecido com o que hoje chamamos de alteridade, que, no caso, era, ao mesmo tempo, nacional, religiosa e racial – argumenta Pereira. – O racismo, contudo, está sobretudo nos discursos de Iago que claramente sexualizam e animalizam Otelo, como mouro, estrangeiro e como negro, mas, obviamente, Shakespeare, como autor, não subscreve essa visão, apenas a apresenta.
Por e-mail, Lawrence Flores Pereira respondeu outras perguntas. Confira:
Desdêmona tem um fim trágico, similar ao de outras mulheres inocentes na literatura e na dramaturgia, o que poderia potencializar uma leitura feminista. Que novas interpretações podemos elaborar a respeito da função dela na peça?
É uma questão instigante se perguntar se Shakespeare jamais criou uma personagem realmente feminina. O certo, contudo, é que foi preciso na descrição do destino de muitas mulheres que, ao mostrarem sua liberdade e iniciativa, acabaram nutrindo a suspeita daqueles que foram os beneficiários de suas qualidades e ousadias. Desdêmona é corajosa no início da peça. Contra o desejo paterno, casa-se com um estrangeiro, ama-o por sua vida, vislumbra nele uma humanidade que muitos em Veneza não reconhecem. Mas sua ousadia, que ela chama de “violação” (violência), se torna na mente de Otelo, envenenado pelas sugestões de Iago, um sinal de sua “liberdade-libertinagem”. Por outro lado, há algo notável nesta peça: Emília, que, no final da peça, faz uma defesa que podemos chamar, sem exagero e anacronismo, de protofeminista. Ela não defende apenas a pureza das mulheres, mas as defende lembrando que elas são humanas, desejam como os homens, possuem um corpo etc. Ao fazer isso, ela soa ao mesmo tempo “menos nobre” do que Desdêmona, mas certamente mais precisa. Ela reivindica um tratamento igual ao dos homens. Também as mulheres desejam outros homens, como os próprios homens desejam outras mulheres. A comparação mexia com os temores masculinos da época.
Em Otelo, o que Shakespeare nos ensina sobre o ciúme?
Ele nos ensina como o processo de contaminação imaginária do ciúme acontece, por meio de sugestões, detalhes, conexões sutis que formam uma longa narrativa até tornar a imaginação algo real, mas também, de modo mais sutil, oferece algumas pistas que ligam a sensação de vulnerabilidade do ciúme com a perda da mãe. Otelo deixou sua mãe para enfrentar uma vida nos campos de batalha. Desdêmona encarna o retorno imaginário dessa mãe. Mas Shakespeare tinha um objetivo maior: as deficiências da imaginação e da interpretação humana que fazem com que acreditemos nos nossos próprios fantasmas ou crenças. Num estudo célebre, Eisaman Maus mostrou como Shakespeare utiliza a linguagem do direito para mostrar o erro indutivo dos pensamentos de Otelo.
Um dos ecos mais conhecidos de Otelo no Brasil é sua influência em Dom Casmurro. Como você avalia essa referência na obra de Machado de Assis?
A influência é grande. Bentinho vai ao teatro para assistir Otelo e sai de lá convencido de que, se Otelo matou sua mulher, que era inocente, ele então tinha razões de sobra para matar a sua mulher que, segundo ele, não era inocente. Há uma falha impressionante nesse raciocínio, que podemos encontrar até em críticos como Jan Kott, que chegou ao ponto de dizer, sem nenhuma vergonha, que Desdêmona, embora inocente, era in potentia uma prostituta – Jan Kott não havia progredido muito além do próprio Otelo. O interessante do trabalho de Machado é nos mostrar como a interpretação de Otelo pode ser alterada pelas nossas próprias percepções masculinas/femininas sob o efeito do ciúme. Mas há um eterno equívoco nesta história e ele se revela na questão comezinha da antiga crítica sobre se Capitu traiu ou não traiu… que perdurou por um século entre nós.
Qual foi a versão mais interessante de Otelo que você já viu ser representada no palco ou no cinema?
Para o cinema, gosto da versão de Oliver Parker e acho que Lawrence Fishburne faz um excelente Otelo. A reconstituição do encontro de Otelo com a Signoria é magistral. Há cortes, claro, que revelam a dificuldade dos diretores de incorporar o grotesco de certas situações. Mas isso foi sempre um problema desde o século 17, quando o classicismo buscou atenuar as cenas indecorosas que diminuíam a grandeza de Otelo.