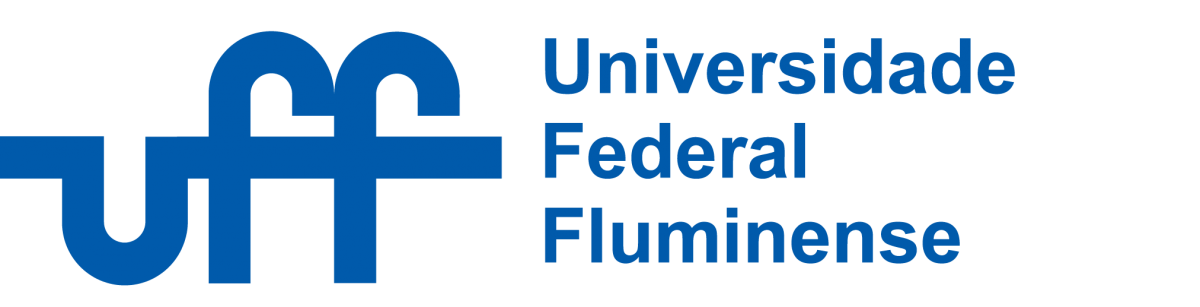Sobre o intraduzível
- Detalhes
- Publicado em Quarta, 17 Junho 2015 11:39
-
Escrito por Super User
A arte de traduzir palavras como saudade e cafuné para a língua inglesa sem usar notas de rodapé
José Eduardo Agualusa – 15/06/2015 – O Globo
A semana passada jantei em Brighton, no Reino Unido, com o meu tradutor inglês, Daniel Hahn. Conheci Daniel há treze anos, numa altura em que ele estava ocupado a traduzir “Nação Crioula”. Aquela era a primeira tradução de Daniel. Sempre a achei excelente, mas Daniel contesta. Segundo ele contém um erro que o envergonha. A páginas tantas surge no romance a palavra saudade, que Daniel optou por manter em português, com um asterisco que remete a uma nota de rodapé. Na nota, Daniel explica que a palavra, muito popular no universo de língua portuguesa, é das mais difíceis de traduzir.
O seu sentido, diz, combina emoções diversas, da comum nostalgia e melancolia, ao pesar de alguém longe da pátria, o sentimento de quem está a perder ou perdeu pessoas ou lugares. “Manter uma palavra na língua original, presa a uma nota de rodapé”, acrescenta Daniel, “é para um tradutor uma confissão de derrota.”
Nessa tarde, antes do jantar, entrei numa livraria para ver as novidades e acabei por comprar um livrinho curioso, “Lost in Translation” — um compêndio ilustrado de palavras intraduzíveis, de várias línguas do mundo. O livro, graficamente muito bonito, inclui apenas duas palavras na nossa língua: saudade e cafuné. Foi por causa do livro que a conversa chegou até a “Nação Crioula”.
Daniel Hanh é hoje um tradutor respeitado. Felizmente, para ele e para nós, não lhe falta trabalho. Há cada vez mais autores brasileiros, portugueses e africanos sendo publicados no mercado britânico e norte-americano. “Nada é traduzível. Tudo é traduzível” — disse-me ainda Daniel durante o jantar. Nada é traduzível porque, em rigor, cada palavra guarda um universo próprio. Tudo é traduzível porque não existe nenhum sentimento, por mais raro, por mais bizarro ou singular, que não possa ser expresso, melhor ou pior, numa outra língua. “Hoje eu traduziria a palavra saudade, conforme a situação, por nostalgia, longing, homesickness, etc.”, assegurou-me Daniel.
Curiosamente, acho que me venho movendo num sentido oposto ao do meu tradutor. Durante muitos anos acreditei que a suposta intraduzibilidade da palavra saudade não fosse outra coisa senão um mito poético, criado por portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, que diria mais sobre a forma como nos vemos, ou como gostaríamos que os outros nos vissem, do que sobre a palavra em si. Hoje já não penso exatamente dessa forma. Não gosto de notas de rodapé. Gosto, contudo, da ideia de que, vez por outra, um tradutor se renda, derrotado, diante dos mistérios mais profundos de um idioma. “Tenho saudades suas” não é o mesmo que “I miss you” — “sinto sua falta”. É isso, mas é mais do que isso. Na dúvida, convém sempre ir à etimologia. Saudade vem do latim com o significado de solidão. Saudade, pois, é esse achar-se sozinho, longe de algo ou de alguém, e todavia perto através da lembrança e do coração. Não há palavra em inglês que resuma todas estas camadas de sentimentos.
O país que mais cultua a saudade não é nem Portugal nem o Brasil — é Cabo Verde. Basta escutar o fabuloso cancioneiro popular cabo-verdiano para o perceber. Em cada dez canções de autores cabo-verdianos, seis ou sete são sobre saudade. A canção mais famosa de Cabo Verde, aliás, deve ser mesmo “Sodade”, de Armando Zeferino Soares, que Cesária Évora ajudou a popularizar, mas que desde então já foi reinventada por dezenas de outras vozes. O culto à saudade não surpreende se tivermos em atenção que mais de metade dos cabo-verdianos reside fora do arquipélago. Saudade é palavra de viajantes.
Cafuné, a outra palavra portuguesa que Ella Frances Sanders, a autora de “Lost in Translation”, considera intraduzível, parece-me ainda mais interessante que saudade. A palavra vem do quimbundo, língua de Angola, da região de Luanda, e faz referência aos estalidos produzidos pelas unhas do polegar e do indicador, ou do anelar, enquanto se acaricia o cabelo, numa delicadíssima cerimônia de apaziguamento e relaxamento espiritual. Gosto tanto de cafuné, e tenho tanto respeito por essa velha arte, que inclusive escrevi um poema, “Receita para um cafuné segundo N’ga Xixiquinha riá Caxongo”, que a cantora paraibana Socorro Lira musicou e incluiu num dos seus álbuns.
Cafuné parece-me impossível de traduzir em outras línguas, sem uma longa nota de rodapé, desde logo por ser um ritual tão particular, e que tão bem traduz um certo universo íntimo, africano, que o Brasil adotou.
Saudade e cafuné poderiam, afinal, resumir o Brasil: a melancolia lusitana temperando e harmonizando-se com a doçura e a sabedoria ancestral da África. Isto pode ser traduzido? Receio que não.
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/cultura/sobre-intraduzivel-16445527#ixzz3dJlUBgX2
© 1996 – 2015. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.
Perfil do tradutor Jorio Dauster no Valor Econômico
- Detalhes
- Publicado em Segunda, 08 Junho 2015 21:08
-
Escrito por Super User
Diplomata com todas as letras
Por Sergio Leo, para o Valor, de Brasília
05/06/2015
http://www.valor.com.br/cultura/4081212/diplomata-com-todas-letras#
Se você aprecia as edições nacionais de imponentes figuras literárias como Vladimir Nabokov, J.D. Salinger, Ian McEwan ou Philip Roth, muito provavelmente teve, em suas leituras, a interferência deste senhor elegante de 77 anos, aparentando quase dez anos menos, com leve sotaque carioca e treino de diplomata. Jorio Dauster, um dos mais respeitados tradutores brasileiros, é dos poucos que escapa ao anonimato da categoria, a começar pelas elogiadas traduções dos clássicos “Lolita”, de Nabokov, e “O Apanhador no Campo de Centeio”, de Salinger.
Com mais de 40 livros traduzidos no currículo, além de contos e outros textos, Dauster se diz diletante em literatura e tem uma carreira também notável como diplomata e executivo: representou o Brasil na Organização Internacional do Café e presidiu o Instituto Brasileiro do Café numa época em que a commodity ainda era carro-chefe das exportações brasileiras. Foi negociador da dívida externa nos anos 90, presidiu a Vale pouco após a privatização. Hoje, é um ativo consultor de empresas e ainda encontra tempo para compor músicas “de brincadeirinha”. A vida, diz ele, é uma única viagem, com a passagem só de ida. “Então, temos de aproveitar a paisagem.”
É com a vista da graciosa e monumental Ponte JK, à beira do Lago Sul, em Brasília, que nos encontramos, à porta do Gazebo, restaurante habitual de encontros de políticos e empresários. “Vamos almoçar; assim podemos tomar uma caipirinha”, havia sugerido o tradutor-diplomata-executivo, ao combinar este “À Mesa com o Valor”. Entramos e, acomodados em sala reservada, ele se queixa ao garçom por só haver cachaça amarela para o drinque. “Assim não pode. Tem de ser branca. Me traz uma com vodca, então.”
Dispensa as entradas do cardápio. “Não dá para viver de tradução, há quem faça profissionalmente, mas no meu caso é diletantismo mesmo.” Considera excessiva a carga horária exigida para viver do ofício. Prefere traduzir nas horas vagas. “É minha nave espacial, decolo com ela, trago sempre no computador; eu entro em alfa, e a qualquer hora.”
Ser diletante não é brincadeira. Acabou recentemente o que considera sua mais difícil tradução, “Lições de Literatura”, de Nabokov, que sairá pela Três Estrelas e lhe tomou mais de quatro meses de trabalho. Agora trabalha em um livro ainda inédito de Jonathan Franzen, sobre o qual mantém segredo e não quis nem contar o título. (Não adiantou: no Google pode-se ver que se chamará “Purity”, pureza, na tradução deste repórter).
Caprichoso, Dauster, como todo bom tradutor, não hesita em partir para soluções próprias, no esforço de respeitar a intenção dos autores que traduz. Reinventou uma poesia para um personagem de Salinger, ao ver que o texto, em inglês, se perderia na tradução literal. Onde outros optaram por “minha alma, meu pecado”, optou por “minha alma, minha lama”, na famosa apresentação de “Lolita”, em que Nabokov, após falso prefácio, usa o poder das aliterações, a cuidadosa repetição de fonemas, para descrever sensualmente a personagem que popularizaria o termo ninfeta.
Ele conta, orgulhoso, que, na última edição de “Lolita” em Portugal, a tradutora portuguesa adotou sua solução e lhe deu crédito. “A maior homenagem que podia querer.” Nabokov, uma paixão, é também um desafio: cada página tem, como defendia Flaubert, a “palavra certa”, amorosamente escolhida. Passar para o português esse preciosismo vocabular é ainda mais difícil por causa do empobrecimento da língua falada no Brasil, lamenta. “É uma vergonha, você tem mais livrarias em Buenos Aires do que no Brasil inteiro, e elas estão fechando, enquanto o país vê novela”, desabafa. “É evidente que a riqueza da língua, enorme, vai se perdendo”.
Dauster, solicitado para conselhos de administração de empresas, já foi considerado um “subversivo”, por suas ideias progressistas e ligações de um irmão com o movimento armado de oposição à ditadura. O diplomata enfrentou atritos com dirigentes do Itamaraty também por seu envolvimento, ainda no início da carreira, com a criação da Unctad, braço das Nações Unidas para o desenvolvimento, que levantou, em plena Guerra Fria, a discussão sobre os desequilíbrios globais entre o Norte e o Sul e deu espaço ao debate sobre o “Terceiro Mundo”.
Acabava de ser efetivada a ditadura no país. O jovem Dauster pediu uma licença de dois meses que a burocracia, incomodada com ele, transformou em seis (“como no pôquer, seus dois, mais quatro”, ironiza). Era o empurrão que faltava à carreira de tradutor. Já tinha começado, com dois colegas do Itamaraty, a tradução de “The Catcher in the Rye”, que queriam intitular “A Sentinela do Abismo”. Cada um havia cuidado de parte do livro, e, com a folga compulsória, Dauster aproveitou para dar unidade ao trabalho, que ganhou tom mais coloquial, com gírias cariocas da época. Mas a agente literária de Salinger não autorizou mudanças, e a obra saiu mesmo “O Apanhador no Campo de Centeio”, título exótico que fez Dauster temer – equivocadamente – pelo futuro das vendas. Hoje, ao citar a obra, evita ambas traduções: na conversa, o livro é, sempre, “o Catcher”.
Por indicação de um amigo, levaram o texto ao cronista Rubem Braga, que desconhecia Salinger e seu sucesso nos EUA. O sócio de Braga na Editora do Autor, Fernando Sabino, porém, conhecia. Comprou os direitos de tradução do livro, que se tornou um sucesso de vendas. Ganharam, os três, o equivalente a US$ 50,00.
Deu para comprar um par de sapatos. E adquirir o vício da tradução. O seguinte foi um livro complexo, “Fogo Pálido”, de Nabokov, que o levou a traduzir também “Lolita”. “Aquela primeira página depois do falso prefácio é uma das coisas mais lindas já escritas em qualquer língua”, diz ele, interrompido pelo garçom, que traz a caipirinha, com canudinho dispensado pelo diplomata. “Como dizia o Nabokov, você tem de ser mais que leitor, re-releitor, re-re-releitor. É difícil encontrar em uma Lolita uma página que não tenha um trecho espetacular, é uma ourivesaria”.
Dauster recebe regularmente, via Google Alerts, tudo o que sai na internet sobre Nabokov e Salinger. Após um gole na caipirinha, recomenda o último artigo que acaba de ler, da “The New Republic”, sobre o modo como a desajeitada e infantil vítima de pedofilia de Lolita foi transformada pela cultura americana, a partir da versão cinematográfica de Stanley Kubrick, em um modelo perverso de exuberante sexualidade adolescente que hoje inspira a cultura pop, de Britney Spears a Miley Cyrus.
“O Nabokov diz que Lolita é o livro mais moralista que já escreveu, e o cinema americano, naquela sociedade puritana, deformou o personagem.” Nabokov criou o termo Lolita e popularizou o substantivo ninfeta, lembra. “Um feito extraordinário, e faz aquilo sem uma palavra de baixo calão, sem uma descrição de cenas de sexo.” As pessoas são levadas a simpatizar com o “monstro”, que, no entanto, em certo trecho do livro, confessa notar, “toda noite”, o choro da menina que o acompanha, comenta Dauster, impressionado. A primeira edição de “Lolita” foi publicada em editora francesa quase clandestina, de material pornográfico. A ninfeta foi salva para a literatura por uma resenha elogiosa do afamado escritor inglês Graham Greene.
O fascínio de Dauster está voltado para o último livro traduzido do escritor russo, a coleção de aulas de literatura proferidas por Nabokov, por 20 anos, nos EUA, após a Revolução Russa expulsar sua família rica de Moscou e a ascensão nazista obrigar o escritor e sua mulher judia a abandonar os refúgios na Alemanha e, depois, na França. No livro, que deve ser publicado neste ano, Nabokov não só explica como desenha detalhes de clássicos como “Ulisses”, de James Joyce, e “Metamorfose”, de Franz Kafka. Nabokov defende que seus alunos conheçam visualmente os caminhos percorridos na Dublin de Joyce, a disposição das portas no quarto de K., o kafkiano personagem que acorda transformado em inseto, e até a provável forma do tal inseto que, garante o russo, não era barata, mas besouro.
“Nabokov foi especialista em borboletas, em Harvard. Faz questão de comentar a morfologia do inseto e, aí está a graça, emenda em observações de grande sensibilidade sobre a família de K., faz tudo isso sem ranço acadêmico, sem ser chato.” Dauster conta que uma dificuldade em traduzir as lições de Nabokov foi passar ao português trechos, às vezes páginas inteiras, de outros autores, vertidos para o inglês pelo autor russo. “Flaubert, Kafka, Proust, cada um tem sua voz”, explica. Para um único autor citado no livro, ele decidiu recorrer a uma tradução brasileira já existente: Joyce. “O último tradutor levou dez anos com o Ulysses; os outros resolvi por minha conta, mas esse não, seria irresponsável.”
Decido fazer um teste. Já que ele se queixa de que tradutores não têm reconhecimento, pergunto se se lembra do nome do tradutor em que se baseou para as citações de Joyce. Por segundos, Dauster vacila, desculpa-se, “agora não, a cabeça…” e emenda: “Galindo! Caetano Galindo! Agora te peguei”.
Dauster derrama-se sobre Nabokov, se não for interrompido pode passar toda a refeição falando do autor, de quem deve ser o maior tradutor mundial, com 17 obras, entre elas um conto e um ensaio. Fala da alegria de ter recentemente traduzido, para a coleção Penguin/Companhia das Letras, clássicos lidos por ele no original há décadas, como “Orlando”, de Virginia Woolf (“não tinha me convencido muito, mas, durante a tradução, vi que é extraordinário, interessantíssimo”).
Já se passaram 50 minutos, e nem pegamos o cardápio. “Dou preferência à conversa, me esqueço de comer”, diz. A caipirinha ainda ocupa mais da metade do copo. Ele pega o menu e decide pelo prato executivo: “Picadinho; adoro picadinho”. Diz que come pouco e dispensa a salada que vem com o prato. O fotojornalista Ruy Baron o acompanha e escolho o filé com molho rôti e risoto com grana padano. A salada e a sobremesa que acompanham o prato executivo do entrevistado foram cedidas ao repórter.
A conversa segue, literária, e Dauster, após a chegada dos pratos, até baixa a guarda que o leva, em todas as entrevistas, a evitar comentários com algum viés de crítica literária. “Não é meu ramo”, costuma dizer. Define-se como um “escritor vicário” (que fica no lugar do outro): “Sei que alguém escreveu um troço que acho muito bom e tenho enorme prazer em tentar descobrir como posso trazer isso para o português brasileiro.” Conta que gosta de imaginar Nabokov a olhar por cima do seu ombro para a tradução e, mesmo sem saber português, sugerindo: “Ó, a palavra em português é essa”.
Salinger é um contista excepcional, que, em suas últimas obras, se deixou contagiar por uma viagem mística que pesa sobre os enredos. McEwan, para Dauster, é “o maior escritor vivo”. O superlativo carrega o entusiasmo despertado por uma das últimas traduções feitas por ele, “A Balada de Adam Henry”, escrito sob inspiração de textos jurídicos lidos num jantar com altos magistrados americanos.
Ao falar de outro gênio literário que traduziu, John Cheever, Dauster vai além e analisa o modo como os EUA venderam ao mundo o sonho americano, mitificando a passagem da classe média branca para os subúrbios. No conto que fez questão de traduzir, “O Nadador”, de tons surreais, um sujeito resolve voltar para casa nadando pela sucessão de piscinas da vizinhança (rendeu filme admirável com Burt Lancaster, em 1968). “É como se eu resolvesse voltar daqui para minha casa no Lago Sul nadando pelas piscinas, só quem sem as cercas e muros.”
Cheever expõe inconsistências desse mundo em tecnicolor de gramados abertos e casais sorridentes, mas sem pessoas negras. Dauster dá uma garfada em seu picadinho e se entusiasma ao comentar a falsa imagem construída sobre os avanços econômicos do pós-guerra (“antes da guerra havia uma favela no Central Park, sabia?”). Um mito, diz, sustentado mesmo durante a crescente desigualdade depois dos anos 70 – sobre a qual ele escreveu artigos analíticos em jornais, antes de legitimado pelo best-seller “O Capital no Século XXI”, de Thomas Picketty.
Temas econômicos são outra praia do cosmopolita tradutor tijucano, último presidente do Instituto Brasileiro do Café, que ajudou a fechar “de tão podre que era”. No IBC, Dauster conviveu com o mexicano Ángel Gurría, que acaba de ser eleito para a presidência da OCDE; e foi amigo do colombiano Juan Manuel Santos, que lhe disse que um dia se tornaria presidente da Colômbia. Eleito, em 2010, Santos convidou Dauster para a cerimônia de posse presidencial.
No governo Collor, para própria surpresa, Dauster foi chamado para chefiar a negociação da dívida externa do país, que decretara moratória anos antes e vivia a situação de pária no mercado financeiro internacional. Diz que não, mas é visível seu desconforto com o esquecimento a que se relegou o enorme trabalho de negociação da dívida pela equipe chefiada por ele, com integrantes como a economista Maria Sílvia de Bastos Marques. Foram os esforços dessa equipe que deram fim à moratória, garantiram a retomada parcial do pagamento de juros e abriram espaço para que o consórcio de bancos credores aceitasse cortar parte da dívida inflada por taxas draconianas impostas aos países emergentes. “O fracasso fede”, diz, ao especular sobre por que um dos poucos êxitos do governo Collor ficou soterrado pela má fama daquela gestão presidencial encerrada em impeachment.
Envolvido em consultoria de projetos, animado com as perspectivas de investimento de uma firma dos EUA no setor de energia solar no Brasil, Dauster é um analista severo da situação econômica e política do país. Termina a caipirinha e, espartano, pede água mineral sem gás. Enquanto espera, lamenta a falta de representatividade na política e defende correção no modelo de desenvolvimento. O país só voltará a crescer 4% a 5% ao ano se resolver urgentemente o financiamento à infraestrutura, e depende do Estado para isso, afirma. Como ex-presidente da Vale e ex-investidor no setor, garante: sem agência reguladora forte, o país não conseguirá expandir, como deveria, o uso de ferrovias necessárias para aumentar a competitividade de cargas.
Dauster pede café em lugar da sobremesa. O tradutor/investidor termina com o depoimento sobre o trauma de um provável investidor, a história de uma comitiva de Cingapura que levou à Região dos Lagos para conhecer oportunidades de negócios. Na volta da cidade de Araruama, o grupo se viu retido na estrada por mais de cinco horas por uma greve de policiais rodoviários (“policiais rodoviários!”). Na Ponte Rio-Niterói, um dos asiáticos se viu obrigado a resolver, na beira de estrada, longe de qualquer banheiro, seu problema pessoal de excesso de liquidez. “Imagine, um sujeito vindo de Cingapura, onde é proibido até mascar chiclete, que trauma!”, lembra-se, compadecido. “E você acha que, depois, ele mandou de volta algum e-mail? Nem um cartão-postal!”
Divulgação: mesa-redonda “Tradutores portadores de culturas”
- Detalhes
- Publicado em Quinta, 09 Abril 2015 12:31
-
Escrito por Super User
A mesa “Tradutores portadores de culturas” ocorre na sexta feira dia 10/04 no auditório da Aliança Francesa de Botafogo no Rio de Janeiro, às 14h com a presença de Paulo Henriques Britto (tradutor, professor e poeta), Carolina Selvatici (tradutora e professora), na mediação de Marô Barbieri (escritora), em videoconferência com Élisabeth Monteiro Rodrigues (tradutora e livreira), Fernando Sheibe (tradutor), com a mediação de Émilie Audigier (tradutora e pesquisadora), no Centro Cultural France Brasil em Marselha.
Matéria do Jornal O Estado de São Paulo
- Detalhes
- Publicado em Sexta, 27 Março 2015 12:15
-
Escrito por Super User
Sucesso do Brasil no Salão do Livro de Paris expõe gargalo das traduções
Público comparece e meta de vendas deve ser batida, mas editores e escritores advertem para a falta de tradutores para o português do Brasil
23.03.2015 | 03:00
Andrei Netto – O Estado de S. Paulo
CORRESPONDENTE / PARIS – A alta frequência de público a debates, sessões de autógrafos e na livraria instalada no pavilhão brasileiro no Salão do Livro de Paris, assim como a repercussão na imprensa da França, confirmam a olhos vistos o sucesso da participação do Brasil como País convidado da 35ª edição da feira. A meta de oito mil livros vendidos em quatro dias deve ser batida nesta segunda-feira, 23, mas acadêmicos, editores e escritores freiam o otimismo e advertem para o gargalo que pode jogar por terra o esforço de divulgação: a falta de tradutores em português brasileiro.
O tema foi um dos centros de debates neste domingo, 22, quando do lançamento da edição especial da revista bilíngue Pessoa, criada em Paris para divulgar a literatura brasileira contemporânea no exterior. No primeiro número, foram publicados textos de 27 autores de prosa, poesia e teatro, sob a organização de Leonardo Tonus, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Paris-Sorbonne (Paris IV). Na apresentação, a escassez de tradutores especializados no português brasileiro, tema comentado nos bastidores do Salão do Livro, emergiu com força.
Impulsionado pelo Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiro no Exterior, da Fundação Biblioteca Nacional e do Ministério da Cultura, o Brasil chegou ao Salão do Livro com um total de 1,2 mil títulos traduzidos para o francês, o que ampliou a oferta dos escritores brasileiros e a visibilidade da literatura nacional. Com isso, suplementos literários de jornais tradicionais, como Le Monde, Libération e Le Figaro trouxeram o Brasil como destaque, e livrarias de Paris prepararam estantes exclusivas. Em uma prova de prestígio, no sábado, o presidente da França, François Hollande, passou pelas instalações, como o premiê, Manuel Valls.
No Salão do Livro, obras de autores brasileiros se espalham por mais de 30 estandes de editoras que publicaram um ou mais títulos. Na livraria montada pela Fnac no pavilhão do País, a previsão da Câmara Brasileira do Livro de vendas de oito mil exemplares deve ser superada. A presença de público é grande nos debates e nas sessões de autógrafos, como no caso de autores como Daniel Galera, Bernardo Carvalho, Paulo Lins, Nélida Piñon e Ana Maria Machado.
Mas, para escritores, editores e acadêmicos, o esforço de ampliar a presença da literatura brasileira e o sucesso do Brasil no Salão do Livro podem se perder caso o volume de traduções não continue a aumentar. “O Salão deste ano está muito melhor do que o de 1998. Há muito mais autores publicados. Na época, era sobretudo Jorge Amado. Hoje a diversidade é muito maior”, conta a ensaísta e ficcionista Betty Milan, um dos quatro autores remanescentes de 1998, quando o País foi convidado de honra pela primeira vez. Para Betty, o evento representou um salto de qualidade, mas o gargalo das traduções tem de ser enfrentado. “É importante que formemos mais tradutores literários. A nossa língua é diferente do português de Portugal”, argumenta.
Segundo Tonus, há muito a fazer para garantir que a literatura brasileira não recue e perca penetração mais uma vez, como aconteceu ao longo dos anos 2000. “Vejo o cenário brasileiro como muito bom e, ao mesmo tempo, muito ruim. Os autores são muito bons, audaciosos. Mas é difícil segui-lo do outro lado do Oceano”, diz Tonus. “O fato de o Brasil ser convidado de honra mostra que o lugar foi conquistado. Mas é uma conquista frágil, que precisa ser consolidada. É urgente formar mais tradutores, o que passa pelo ensino da língua no exterior.”
Para Paula Salnot, publisher da editora Anacaona, fundada em 2010 e especializada em literatura brasileira, o momento é favorável, mas o interesse de grandes editores ainda é limitado. “O que está acontecendo nos últimos anos é efervescente. Há uma nova geração de leitores, que cria uma nova geração de escritores”, diz Paula. “Mas ainda faltam editores que se interessem. Eles conhecem pouco da literatura brasileira, e não conhecem seu contexto.”
Nesta segunda-feira, 23, último dia da feira, é esperada a chegada do escritor brasileiro contemporâneo mais célebre na França e em todo o mundo: Paulo Coelho.
Salão de Paris nunca paga cachê a autores
Os organizadores do Salão do Livro de Paris responderam ao princípio de polêmica suscitada por declarações de Luiz Ruffato, que reclamou do não pagamento de cachê aos autores brasileiros. Além de passagens internacionais, da estada em hotéis da capital da França e do transporte urbano, os escritores ganham uma diária de € 50 para cobrir despesas de alimentação. Mas não recebem remuneração pela participação no evento. Essa situação foi criticada por Ruffato. Organizadores da França e do Brasil demonstravam surpresa com as queixas. “Todo ano é assim, com todos os países que já foram convidados. A diária é sempre do mesmo valor, de € 50, e não há pagamento de cachê. É assim independente do País”, afirmou Mansour Bassit, diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro (CBL). “Nem gostaria de falar disso. Essa é a prática habitual”, disse Betty Milan. / A.N.